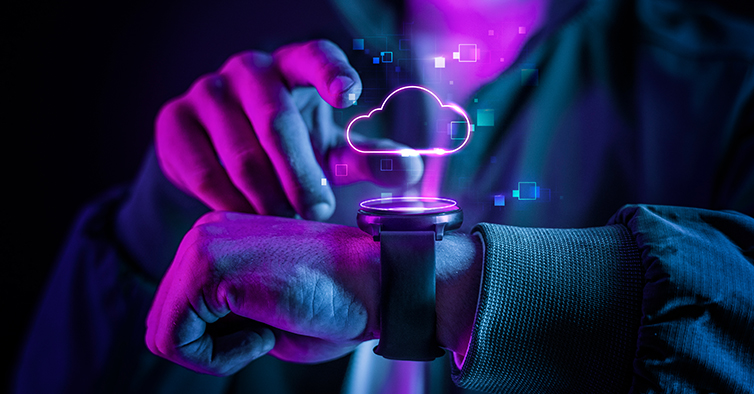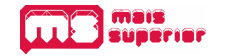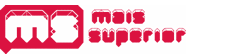No mundo do olá, tudo bem tudo fixe, ele tem muito mais para dizer. Em Império Auto-Mano, o PZ continua a jogar com a língua para refletir nos perigos da tecnologia, ao mesmo tempo que encontra conforto nas expressões do Porto ou num bom prato de lulas. A Mais Superior encontrou-o mais maduro, vestido com o pijama do costume.
O PZ transformou-se num fenómeno de culto e é cool gostar da tua música. Que explicação encontras para isso?
Acho que faço música que é um bocadinho diferente do normal, e tenho percebido que as pessoas vão aos meus concertos e compram os mus discos, mas também sei que nunca serei um artista consensual e comercial, e sei que também tenho haters. Por isso sim, uma coisa mais de culto.
É assim que queres ser lembrado?
É uma boa questão. Acho que isso vem a posteriori. Quando faço o meu trabalho quero sempre manter a minha linha, sendo disruptivo, querendo que as pessoas oiçam música diferente e explorando as possibilidades da língua portuguesa. Se essa abordagem não for tão abrangente como outras, estou contente assim.
Eu comecei isto do PZ em 2005, e arranquei sem grandes expetativas. Estou muito grato por tudo o que se passou ao longo deste ano e de já ter um certo lugar na música portuguesa. Vou continuar a fazer música à minha maneira e o resto virá por acr“éscimo.
Que se lixe é uma das tuas máximas. Dizes o que queres como queres. Sentes-te com a mesma irreverência de há doze anos atrás, quando começaste?
O primeiro álbum que fiz [em 2005] ajudou-me a sair de uma depressão clínica, e acho que foi aí que iniciei a minha carreira, sem perceber muito bem como. Era muito verde e não percebi o que tinha de fazer ao lançar um álbum. Mais tarde voltei a dar concertos e a fazer sessões de improviso, até que em 2012 reuni um conjunto de músicas que tinha composto ao longo desses anos, fiz o vídeo dos Croquetes e pegou. Ter chegado a tanta gente fez-me mudar a minha postura em relação ao PZ, de lhe dar atitude e uma identidade, com a cena do pijama sozinho em palco. Nas Mensagens da Nave-Mãe passou a fazer-me sentido levar mais músicos comigo, e em paralelo a minha vida também se foi definindo. Sinto-me melhor comigo próprio, já tenho mulher e filhos, mas o PZ é o meu escape musical e sempre o verei como uma forma de me exprimir perante o mundo, uma espécie de agente do subconsciente. Uma autoexperiência musical. As canções vão mudando comigo.
Entre as Mensagens da Nave-Mãe e o Império Auto-Mano passaram-se dois anos. Numa entrevista recente disseste que hoje em dia os músicos sentem mais a pressão de ter de lançar algo novo com regularidade, para não serem esquecidos. Foi essa a necessidade que sentiste desta vez?
Já tinha várias músicas, e a minha ideia até era de lançar o Império Auto-Mano em 2016. Mas obviamente que não sou imune a esse tipo de pressões, e talvez seja cada vez menos. Dependendo do projeto que é, normalmente não é possível estar muito tempo parado, e com o PZ tenho o compromisso de fazer um disco a cada ano, se calhar. Hoje em dia a novidade vale muito, e em Portugal há cada vez mais artistas a fazer coisas novas, e eles roubam um bocado o spotlight. Tal como eu tive uma atenção maior com a Cara de Chewbacca porque era a novidade. Temos de nos ir reinventando, e eu sinto que o Império Auto-Mano é o disco mais maduro que já fiz.
Para não seres esquecido, não é mais fácil lançares singles?
Obviamente que fazer música é uma coisa, lançá-la cá para fora é outra. Faço parte da Meifumado (editora), que vem acumulando experiência e que já definiu a sua forma de editar discos. Pessoalmente, gosto de lançar um single antes de lançar o álbum, um bocado para dizer “pessoal, tou aqui a trabalhar numa cena, vejam isto que daqui a pouco chega o disco”. Gosto de lançá-lo com um videoclip, e de ir fazendo mais para manter o disco vivo.
Mas a estratégia dos singles é totalmente viável e pode resultar, porque cada vez mais as pessoas consomem música a música. Eu sinto-me muito mais satisfeito por ouvir um grande disco de um grande músico, e enquanto PZ também quero proporcionar essa experiência a quem me quiser ouvir.
O som, a linguagem e os temas deste disco seguem a linha das Mensagens da Nave-Mãe?
Penso que sim. Acho que é uma continuação natural da Nave-Mãe e até tenho de confessar que houve músicas a entrar agora que eram para ter saído na Nave-Mãe – a Olá é uma delas. Quando decido fazer um disco vou buscar as músicas que me parecem mais consistentes e que liguem melhor entre elas, porque na minha maneira de ver, um álbum tem de ter um conceito, uma linha.
Este disco vem na linha dos anteriores, e talvez o disco mais diferente que fiz tenha mesmo sido o Anticorpos.
 No disco estão a receita de lulas da tua avó, as expressões típicas do Porto, a maquinização do ser humano e o terrorismo. É conforme o lado para que acordas virado?
No disco estão a receita de lulas da tua avó, as expressões típicas do Porto, a maquinização do ser humano e o terrorismo. É conforme o lado para que acordas virado?
[risos] Não acho que seja tanto o lado para que acordo virado, é mais quando vou para a cama com fome de lulas… É mais natural que esteja a brincar. Os ingleses têm a expressão perfeita para pôr música a tocar – play – e no meu caso isso aplica-se mesmo porque quando me surge um beat, surge me rapidamente uma letra para o acompanhar. Muitas vezes começo pelo gancho, aquela parte que joga com as palavras ritmicamente. Noutras até estou a improvisar numa espécie de canção rap ou pop, e de repente surge-me ali uma palavra que faz sentido naquele momento, e depois pego nisso tudo, acrescento os sintetizadores e jogo entre o que é maquinal e o que é livre, e de repente a estrutura vai fazendo sentido. Noutras vezes ainda, surge-me a letra e depois vou fazer o ritmo.
Uma pessoa nunca sabe é quando é que os momentos de inspiração vão surgir, e não pode haver aquela pressão de ter de ser naquele instante. E comigo é tudo muito natural.
Às tantas isto já define o PZ, e o público já espera esta amálgama de temas… Isso surge-te naturalmente?
Eu não gosto de me repetir nos temas, tem de ser sempre diferente. Às vezes dá-me para a cena da gastronomia, porque é uma das coisas que define Portugal e eu gosto dos cafés e dos salgadinhos e da chamuça e do croquete, e do próprio tom da conversa de café. Acho que esta coisa de acordar e de não pensar sempre na mesma coisa também é muito portuguesa, e eu tento transmitir isso com a minha música, ao mesmo tempo que tento dar coerência à não-coerência dos meus temas. Quero falar sobre tudo e mais alguma coisa, mas mantendo a minha linha estética e a minha forma de pensar. E mesmo quando um tema é mais banal, gosto de o tratar de forma séria – a Olá é um bom exemplo disso… Parece que aquilo não tem nada mas na verdade fala das pessoas não terem tempo para nada, nem para falar, é olá, tudo bem tudo fixe e pouco mais. Gosto da ironia e do sarcasmo porque conseguem resumir em poucas palavras o que sentimos.
Ao mesmo tempo, falas da nossa existência online, das redes sociais e de tudo ser maquinizado. Da nossa falta de tempo para os outros. É a própria existência do ser humano que está em causa?
É um pouco isso… Penso no tema em algumas das músicas, e o próprio título do álbum reflete isso – o Império Auto-Mano é o meu símbolo literário para o que estamos a viver atualmente. Nós abraçámos esta tecnologia que tem coisas boas mas que precisa, como tudo, de moderação, e sobretudo de não nos esquecermos de que somos humanos e que podemos estar presencialmente uns com os outros, e sair de casa e ver o que está lá fora. No caso das gerações mais novas, por estarem ainda mais expostas, vão acabar por ser praticamente engolidas pelas redes sociais.
Acho que se fala e se deve falar sobre isto, e eu próprio resolvi fazê-lo porque sofro um bocado. Às vezes quase parece que não há mais nada para além das redes sociais, parece que o mundo está todo ali mas não está, é só um ecrã. Às vezes parece que são já as máquinas a mandar mais do que as pessoas…
A história tem-nos mostrado que o ser humano tem dificuldade em ser moderado. Com a internet, estamos mais ligados e mais expostos do que nunca… Isso torna tudo mais perigoso?
Acho que é um espelho do mundo. Tudo o que existe e que dantes não tinhas acesso agora entra-te pelo ecrã adentro, e o anonimato também potencia os estados de angústia e de frustração que depois se manifestam online em coisas como o cyberbullying ou mesmo os próprios haters…
Penso que vai tornar-se ainda pior, e se calhar um dia destes nem vamos precisar de telefone e vamos falar para o dedo, com um implante que nos liga à rede. Acho que vai ficar cada vez mais perigoso, mas confio que ainda existem pessoas inteligentes neste planeta e que vão dar o melhor uso a esta tecnologia. O problema é que o mundo como um todo é uma besta um bocado incontrolável.
E o pijama, continua a assentar-te bem? Ainda reflete quem tu és enquanto artista?
Acho que sim, acho que acabou por se tornar um símbolo de quem está embrenhado naquela preguiça, de quem se está a cagar para o que as pessoas acham. É o meu fuck you to the world!
[Entrevista: Tiago Belim]
[Fotos: Meifumado]