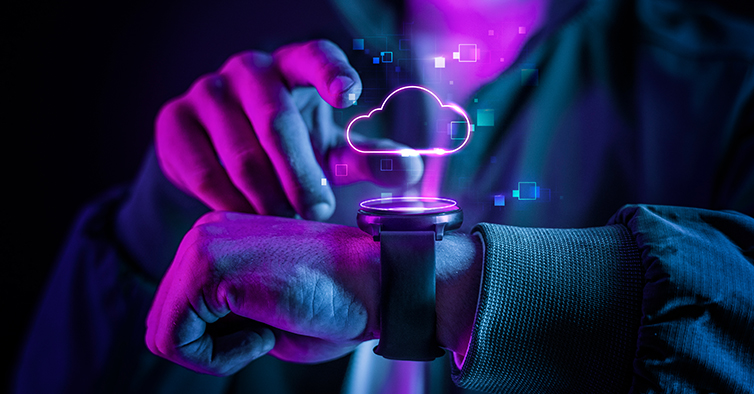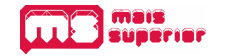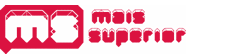Estão mais à-vontade, com um som mais cru e mais virado para o exterior. É assim que os You Can’t Win Charlie Brown apresentam Marrow, um disco “de banda” e de olhos postos nos concertos. O porquê desta mudança e muito mais, em conversa com o Afonso Cabral!
Acabaram de dar aquele que talvez tenha sido o mais desafiante dos vossos concertos, no CCB, com um coro feminino e vários artistas convidados… Como correu?
Sim, foi o maior concerto que já demos… não em termos de público, mas em termos de planeamento e de logística de espetáculo. Sobretudo pela preparação que implicou. Mas acho que correu muito bem! Tínhamos um coro feminino com 8 raparigas muito talentosas, um trio de cordas, e ainda tivemos a participação de três pessoas que estão sempre de reserva para tocar connosco quando alguém não pode. É uma espécie de banco de suplentes de luxo!
O que também foi diferente foi o espetáculo de palco, de luzes. Foi uma aventura bem diferente do habitual, mas valeu a pena!
Foi algo único ou é para repetir?
Foi único e pensado para fazer no CCB. Mas se houver alguém interessado em replicar o espetáculo, que se chegue à frente! A abertura é total, porque gostámos muito da experiência.
 O Marrow [novo disco da banda] é mais pensado para que ao vivo possam puxar pelas canções e fazer coisas diferentes?
O Marrow [novo disco da banda] é mais pensado para que ao vivo possam puxar pelas canções e fazer coisas diferentes?
Sim, muito mais do que os outros discos. Aliás, aí isso nem sequer foi uma opção assumida e não pensámos nos concertos. Víamos um disco apenas como um disco, usávamos o estúdio para tudo o que fosse possível e queríamos aproveitar isso ao máximo, nem pensávamos como iríamos tocar as músicas ao vivo… Para nós, os concertos eram uma aventura diferente que só aparecia depois do disco.
Com o Marrow quisemos desde o início fazer algo que funcionasse melhor ao vivo e que puxasse mais por nós.
“É um disco muito mais elétrico, mais distorcido em algumas partes… É um disco menos introvertido e mais ‘para fora’!”
Estas canções parecem muito mais terem saído diretamente da sala de ensaios…
Dizer que saíram de forma espontânea seria uma mentira, até porque na parte da composição somos muito pouco espontâneos. Até pode haver uma ideia, mas procuramos espremê-la ao máximo possível para que o resultado final seja o melhor possível. Espontaneidade não nos define, pelo menos para já. Mas sim, estas músicas surgiram um pouco mais do que nos ia na cabeça no momento…
Este disco é mais cru, com menos arranjos?
Sim, um bocadinho. Uma das ideias base era não acrescentar tantas camadas e elementos de estúdio. Em alguns temas percebemos que, apesar de tudo, isso ainda era preciso. Mas em muitos deles somos os seis a tocar, e temos no máximo umas cordas, um efeito aqui, umas dobragens de voz ali, mas tentámos não nos entusiasmar demasiado com a adição de camadas, que no estúdio é algo muito divertido e criativamente difícil de parar. Há sempre vontade de pôr mais e de melhorar qualquer coisa…
Nos discos anteriores, cada membro concentrava-se muito na sua contribuição para as canções, e neste há um trabalho mais “de banda”. Porquê este shift?
Queríamos mudar um bocado o processo para chegarmos a um resultado final diferente. Quando queres que o produto final seja distinto, o melhor é alterares a forma como o estás a preparar… mesmo que não saibas bem no que isso vai resultar! Foi um esforço consciente da nossa parte, para fazermos isto de outra forma e termos uma sonoridade diferente.
 Para quem goste de You Can’t Win Charlie Brown e ainda não conheça o novo disco, o que vai encontrar?
Para quem goste de You Can’t Win Charlie Brown e ainda não conheça o novo disco, o que vai encontrar?
É um disco muito mais elétrico, mais distorcido em algumas partes – na guitarra, nos amplificadores… É um disco menos introvertido e mais “para fora”!
Lembro-me de quando estávamos a gravar no Haus… Há muitas bandas a trabalhar lá – PAUS, Linda Martini, etc. – e muita gente nos dizia que gostava imenso dos nossos discos, mas que se sentia que estávamos a tocar um pouco “para dentro”… E quando ouviram o Marrow sentiram o contrário. Parece que estamos mais à vontade.
A que atribuis esse maior à-vontade?
Estamos mais confortáveis, não uns com os outros, mas enquanto banda. E também no nosso papel dentro do panorama atual da música portuguesa. Sabemos que podemos e devemos fazer o que nos apetecer sem ter vergonha ou medo disso. Acho que hoje vemos as coisas de maneira diferente.
Foi fácil alinhar nesta ideia todos os membros da banda?
Nós não costumamos dizer diretamente o que vamos fazer. Há sempre quem traga ideias mas conscientemente tentamos nunca dizer “é isto e pronto”. Assim há sempre uma abertura maior e acaba por ser uma coisa mais orgânica – tentamos ir pelo feeling que estamos a ter no momento da composição e adaptar isso à ideia de cada um.
Nunca houve grandes problemas nesse aspeto também porque nos conhecemos o suficiente para perceber em que ponto é que cada um está.
Provavelmente atingiram o ponto de maturação enquanto banda ao perceberem que o caminho é esse?
No segundo disco [Diffraction/Refraction] pegámos em muito naquilo que tínhamos feito no primeiro [Chromatic]. E algures pelo caminho acho que percebemos que havia algo que definia o nosso som, algo cujos elementos podíamos desconstruir, deixando o resto para modelar. Isso tem sido um desafio giro e interessante! Agora o que vem daqui para a frente… Não sabemos dizer.
Isso faz-vos entusiasmar mais com a vossa música ou o sentimento é simplesmente diferente?
Não. É uma fase diferente, o entusiasmo é sempre o mesmo. Não é tanto uma questão de evoluir ou não, mas sim o que ouves e o que gostas no momento, que vai sempre mudando. E acho que temos conseguido transmitir aquilo que estamos a sentir. Provavelmente agora há um ou outro tema do primeiro disco que tocamos menos ou que não tocamos de todo, porque não nos diz tanto… Mas talvez volte a fazer sentido daqui por uns tempos.
É fácil encaixar o vosso repertório mais antigo nos concertos de hoje?
Sim, não tem sido complicado. Há sempre um ou outro tema difícil de encaixar, ou porque é muito grande ou porque não se encaixa, mas dá perfeitamente para resolver, nem que o toquemos só de vez em quando.
Fala-me das vossas próximas datas. E quanto a festivais de verão e semanas académicas, podemos contar convosco?
Vamos estar no TAGV em Coimbra no dia 9 de fevereiro, e no dia 10 em Sever do Vouga. Também temos várias outras datas que podem ver no nosso Facebook, e vão aparecer mais!
Quanto aos eventos académicos e aos festivais de verão… Acho que fazem todo o sentido, agora mais que nunca, por isso que venham as propostas! (risos)
Sei que o nome Marrow [medula óssea, em inglês] tem origem numa visão do David Santos de esqueletos cintilantes a dançar… Prometem pôr também os esqueletos dos universitários a dançar?
Sim, o dos universitários sim! É um concerto que dá para “abanar”!
[Entrevista: Tiago Belim]
[Fotos: Vera Marmelo]
Esta entrevista faz parte da edição de janeiro/fevereiro da revista Mais Superior. Para leres mais, clica aqui!