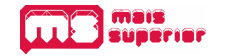Assegura que a decisão mais séria que tomou na vida foi dizer aos pais que não ia trabalhar em Arquitetura – “pelo menos para já, por um aninho”. O motivo desse afastamento foi o sucesso do primeiro álbum – hoje, já vai no sexto. Portugal pode ter perdido um arquiteto criativo, mas a música nacional nunca mais parou de ganhar com o seu talento.
Passado praticamente um ano do lançamento de A Procura – que conta com os singles Se Me Deixasses Ser, Partimos a Pedra, Diz Sim e o mais recente Dragão – Tiago Bettencourt prepara-se para um espetáculo memorável: a 6 de dezembro, atua no centro da plateia do Coliseu, com o público sentado à sua volta.
Este concerto no Coliseu de Lisboa vai ser diferente. Qual foi a ideia-base para criarem este novo conceito?
Os concertos em dezembro são sempre no meio do Coliseu, por causa do circo. Na primeira vez que fui ao Coliseu, fizemos um concerto muito bonito. As pessoas estavam sentadas dentro do palco. Nós estávamos também em cima do palco, mas de costas para a plateia vazia. Agora, achei que seria bonito experimentar este formato. Especialmente para este álbum, que é mais intimista. No fundo, o que estamos a tentar fazer é adaptar os espetáculos que temos levado aos Auditórios. O cenário é diferente e tentamos fazer um upgrade para tornar o espetáculo visualmente bonito.
É uma grande preparação em termos de espetáculo, luzes, palco, cenários?
Tento sempre trabalhar com pessoas que são bastante teatrais a fazer luzes, mas que compensam a música. Não quero grandes encenações, porque é importante para mim que as músicas não se percam. Gosto de não ter muitos ecrãs. Quando lancei o meu primeiro álbum sozinho, tinha três ecrãs atrás e foi giro, iam passando imagens artísticas. O que não queria é que lá estivesse eu tocar, igual nos três ecrãs. Gosto que aquilo que apareça complemente sempre a música. Quando estás a conduzir e a ouvir a música que gostas, isso transforma-se logo num momento. É importante que essas componentes visuais façam crescer a música, ajudem a que ela se ligue mais às pessoas.
Sempre soubeste que o teu futuro ia passar pela música ou ela surgiu como uma rota alternativa no caminho?
Comecei muito cedo e naquela altura era mais difícil. Não havia programas de talento nem todo este imediatismo de agora. Eu não tinha qualquer ambição de ser músico. Venho de uma família conservadora, portanto ser músico estava completamente fora de questão. Estava a estudar Arquitetura quando tive a minha primeira banda, com o Pedro Puppe. No fundo estávamos a divertir-nos, eu nunca achei que não ia ser arquiteto! Um dia, o baterista da banda mandou uma maquete para um concurso e acabámos por vencer. O prémio era dar um concerto no Garage, que na altura ainda era uma sala de espetáculos. Demos o primeiro concerto e tivemos logo propostas para gravar discos. Mas eu nem sequer me estava a esforçar por isso, éramos só um grupo de amigos a cantar, não tínhamos qualquer ambição nesse aspeto. Para começar, tive de pensar no que queria gravar, porque nunca tinha estado em estúdio e não fazia ideia! Fizemos tudo com muita calma, muita cabeça. Vivia consciente de que aquilo podia ser uma fase e que, mais tarde ou mais cedo, ia voltar à Arquitetura. A decisão mais séria que tomei foi quando disse ao meu pai e à minha mãe que não ia trabalhar já em Arquitetura, porque o álbum começou a ter sucesso. Disse-lhes que ia experimentar música durante um aninho e que depois logo se via.
Tens pena de ter deixado essa área para trás?
Acho que não ia conseguir ser arquiteto. Talvez fosse fotógrafo. Aprendi muito no curso e adoro a àrea, mas é uma profissão muito técnica. A parte artística representa uns 5%. Faltava ali a componente criativa.
Quem foi a tua maior inspiração no mundo da música?
Falamos aqui dos anos 90. Eu era um grande fã dos Smashing Punpkins, dos Pearl Jam, Aerosmith, Beck, Tom White, Bob Dylan, Neil Young, Nirvana, Blur, Arcade Fire. Quando gravámos o álbum, o produtor pediu-nos um ou dois discos que tivessem servido de inspiração, para ele perceber mais ou menos a estética que queríamos. Dei-lhe o primeiro álbum dos Coldplay. Era muito bonito, um trabalho alternativo e acústico. Nada a ver com os Coldplay comerciais de agora.
Se pudesses escolher alguém com quem te sentares numa tarde e ter uma conversa agradável sobre música, quem escolhias?
Escolhia o Bob Dylan. Ou o Tom White.

O que podes dizer sobre este álbum, A Procura? Essa procura foi proveitosa, encontraste o que pretendias?
O nome surgiu no fim do álbum, quando eu andava a tentar perceber o que as músicas e as letras tinham em comum. Não conseguia perceber muito bem o que unia todo o álbum, além da sonoridade. De repente, surgiu-me essa palavra, que acaba por encaixar muito bem em todo o ambiente do álbum. Procura é uma palavra meia transcendente, um sítio incerto, uma vontade de encontrar qualquer ciosa. Também te pode faltar algo e nem andares à procura disso, nem saberes sequer o que te falta. Procura é uma palavra muito proativa, muito inspiradora.
Contas muitas histórias nas tuas letras. São histórias reais?
O que faço é descrever momentos estáticos, não digo o que vai acontecer nem o que aconteceu. Falo de momentos, de estados de espírito – que, por sua vez, têm por detrás histórias. Muitas delas são verdade do princípio ao fim, outras começam verdadeiras e depois deixam de o ser. Há delas que são ficção, fruto de uma palavra, de algo que vi num documentário, por exemplo. Não dá para perceber a minha vida privada através das músicas – e nem eu quero isso! A poesia tem destas particularidades. Posso estar a escrever algo inteiramente real e dar por mim a pensar “Era mesmo bonito que isto fugisse para aqui!”. E eu lá vou, esqueço a realidade e viajo.
Ainda ficas nervoso para os teus concertos?
Só quando são muito diferentes! No Coliseu talvez vá estar nervoso, devido à disposição. A minha postura em palco vai ter de ser diferente e isso talvez me dê algum nervosismo. Mas nos concertos normais não, estou sempre muito calmo. Fiquei nervoso quando fui agora a Londres, ao Festival Iminente. Fomos num formato que nunca tinha feito antes. Era um concerto muito eletrónico, algo a que não estou habituado. Além disso, não tínhamos ensaiado muito.
Mas lembras-te de sentir um nervoso miudinho antes dos concertos, ou foste sempre muito calmo?
Muito cedo na minha vida arranjei uma forma de transformar o nervosismo, de o usar para enfrentar o medo. “Usar o medo antes que o medo te use a ti”. Tens de perceber a inevitabilidade do momento, pensar que aquilo vai acabar por acontecer – por mais que tenhas receio. E se vai acontecer, vou fazer o melhor que sei. Se aparecer um momento ridículo, gozo com esse momento! Tenho muito humor em cima do palco, não tenho medo de gozar comigo mesmo nem de cair no ridículo. Isso faz com que esteja bastante à vontade.
Quando escreves, é espontâneo ou precisas de estar num ambiente calmo e silencioso?
Por vezes tenho de me obrigar a escrever, de me forçar a ter um método. Senão podem aparecer outras coisas para fazer, séries para ver – e nunca mais! Mas há uma parte boa: o Stranger Things, por exemplo, influenciou imenso o álbum “A Procura”, através do ambiente, da sonoridade… Depende do tipo de letra, porque também posso escrever no meio da cidade, a andar ou a ir de carro ao supermercado! Gosto de viajar sozinho, também é um bom momento para não me chatear com muita coisa. Não gosto desta novidade de haver 3G na Europa inteira. Isso faz com que possa ter sempre a internet e o telemóvel ligado, como se estivesse cá. Isso é chato! Não consigo desligar.
Supondo que todas elas são especiais, há alguma música que seja a tua favorita?
Depende da fase que estou a passar. Quando me fazem essa pergunta, lembro-me sempre da Fúria e Paz. Adoro o clipe, dá-me muito gosto cantá-la. Deste último álbum, gosto do Amar Alguém. O Se me deixasses ser é um single que acho que nunca vou deixar de gostar de cantar.
Se pudesses escolher alguém com quem fazer uma música, qualquer pessoa, quem escolhias?
Beck! Acho que é um bom artista e gostava de perceber o processo dele. Também gostava de perceber como a Björk trabalha em estúdio.
Nos concertos costumam pedir-te para cantares os singles mais antigos?
Tenho uma parte em que não há grande alinhamento e digo para me pedirem o que querem ouvir. Como normalmente já tocámos a Carta (risos), pedem muito o Jardim, o Se cuidas de mim. Canções que nunca foram singles, mas que ficaram populares.
Quais as músicas que agora não faltam na tua playlist?
Nils Frahm, Jon Hopkins, Unknown Mortal Orchestra, o novo disco do Flak (guitarrista dos Rádio Macau, que lançou um disco produzido pelo Benjamim)… Dino D’ Santiago lançou um disco muito bonito agora, também. Foram as últimas músicas que ouvi no Spotify!
És fã de alguns artistas nacionais?
Adoro Capitão Fausto, Luís Severo, Benjamim, Márcia. Gosto muito daquilo que os HMB fazem, é muito verdadeiro: música porreira para dançar, letras leves e divertidas. Há muita gente a fazer música boa. Outro exemplo é Cassete Pirata, uma banda que faz canções incríveis e que ainda nem arranjou produtora! Passei o verão passado inteiro a ouvi-los. Estou sempre atento: gosto de ouvir quem produz pela verdade e pela música.
Têm-se ouvido muitas colaborações entre artistas de diferentes géneros, agora até o fado – que era um estilo mais fechado – se tem aberto a parcerias . O que achas disso?
Há muita coisa a cair na banalidade e o fado pode ser uma delas. Adoro fado e a parte mais especial é o fadista, a guitarra, a viola. É o que toca mais as pessoas. Tens depois o outro lado – o dos agentes – que acha que, para um concerto de fado sobreviver numa feira e em palcos maiores, tem de ter mais qualquer coisa. Percebo que isso possa ser um argumento, mas faz-me falta ouvir discos de fado do princípio ao fim. Há fadistas que se sentem um pouco claustrofóbicos e têm necessidade de dar passeios por outros lados. Se às vezes podem cair no banal? Talvez, quando deixa de ser diferente fazer fado e fazer pop.
Se te deixassem ser, o que eras?
Era exatamente o que sou. Se gostava de poder ir a um Pavilhão Multiusos, de ter esse tipo de sucesso? Claro! Agora a questão é: eu quero fazer a música que me leva ao Pavilhão Multiusos? Não quero. Porque não ia ser feliz. Lembro-me de quando estava nos Toranja e A Carta explodiu, chegando a um público que não era o nosso. Estávamos a fazer concertos para pessoas que não percebiam a nossa música. Isso não fazia feliz, não é o que quero.
Há uns tempos fui fazer um concerto de caridade. Estavam muitos miúdos a tocar pela primeira vez e, no fim, tive de ir dizer a uma rapariga – que devia ter 16 anos – que ela tinha uma voz muito bonita. A resposta dela foi “Sim, obrigada, vamos lá ver se dá alguma coisa!”. E eu olhei e pensei “Como assim? Ela está no liceu, devia estar a divertir-se e a preocupar-se com os estudos, o que interessa se dá alguma coisa ou não?”. Os miúdos de agora, se acham que são afinados, fazem logo um vídeo para mostrar no Instagram e no YouTube, querem logo entrar num concurso… A intenção deixa de ser o crescimento interior da canção e passa a ser o sucesso, o mostrar o mais rapidamente possível ao mundo o talento que tem (ou não tem).
No fundo, gostava que as pessoas mudassem os critérios de escolha da música que ouvem. Gostava que determinados artistas começassem a pensar menos no sucesso e na vendar e mais no futuro da música. Os miúdos do liceu, que estão a ouvir a música deles, vão fazer música igual – ou ainda pior!
Devia estar a puxar-se para o lado oposto, não para a imediaticidade da música americana. Voltar mais para o lado europeu, sentido, com cabeça, tronco e membros. Criar músicas que nos fazem bem, que são boas para o ser humano e não o banalizam.
[Fotos: cedidas pelo entrevistado]